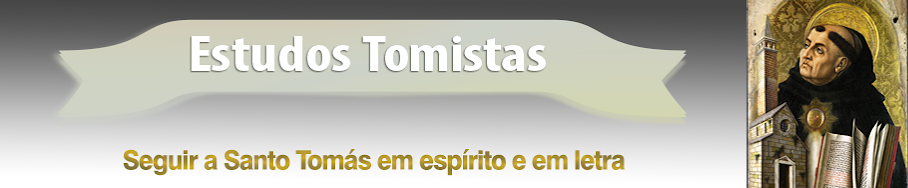Carlos
Nougué
Por ocasião da próxima Copa do Mundo, meditemos um
pouco sobre o esporte. Sim, porque que fim ou fins buscam
os homens quer com as várias modalidades de atletismo, quer com os diversos
esportes coletivos?
Antes de tudo, relembre-se o que digo no livro Da Arte do Belo: a arte do belo ordena-se ou deve ordenar-se a alguns fins, adquirindo porém cada um desses fins caráter de intermediário ou de meio com
relação ao fim último do homem. Tal caráter de intermediário ou de meio decorre de
algo ineludível, assim expresso filosoficamente: é impossível à vontade
humana apetecer mais de um fim último. (Para o
perfeito entendimento do dito, leia-se Santo Tomás, Suma
Teológica, Ia-IIae, q. 1, a. 5, artigo intitulado, precisamente, “Pode um
homem ter muitos fins últimos?”.)
Pois bem, algo semelhante sucede
com o esporte: porque, como disse há mais de 50 anos o Papa Pio XII em Esporte
e Ginástica, “tudo o que serve para a consecução de determinado fim deve
extrair sua regra e sua medida de tal fim. Ora, o esporte e a ginástica têm
como fim próximo educar, desenvolver e fortificar o corpo em seu aspecto
estático e dinâmico; como fim mais remoto, a utilização, por parte da alma, do
corpo assim preparado para o desenvolvimento da vida interior ou exterior da
pessoa; também como fim mais profundo, contribuir para a sua perfeição; por
último, como fim supremo do homem em geral e comum a toda e qualquer
forma de atividade humana [grifo nosso], aproximar o homem de Deus”.
Estabelecidos assim os fins do esporte em geral,
“segue-se que neles se deve aprovar tudo quanto serve para alcançar os fins
indicados, naturalmente na ordem que lhes convém; deve-se rejeitar,
pelo contrário, tudo quanto não conduz a tais fins, ou se afasta deles, ou sai
do lugar que lhes é [devidamente] atribuído” (idem), exatamente,
aliás, como no caso da arte do belo.
Não que o senso religioso e moral desconheça e
rejeite o que é próprio do corpo (que é o fim próximo do esporte) ou a
necessidade estética do homem (que é o fim próximo da arte do belo). Mas vai muito além e, ensinando a relacioná-los com a sua primeira
origem, atribui-lhes “um caráter sagrado de que as ciências naturais e
a arte não têm, de per si, nenhuma ideia” (idem).
Sim, porque Deus coroou a criação visível formando
do barro o corpo humano e “inspirou-lhe na face”, prossegue Pio XII, “um sopro
de vida que fez do corpo a habitação e o instrumento da alma, o que é o mesmo
que dizer que, com isso, elevou a matéria ao serviço imediato do
espírito” (idem). Estava preparado o corpo humano, portanto, para
receber a dignidade de templo de Deus, “com aquelas prerrogativas, também
superiores, que correspondem a um edifício a Ele consagrado” (idem),
razão por que dizia o Apóstolo: “Glorificai e levai Deus no vosso corpo”, que
“pertence ao Senhor” (ver Cor., VI, 13, 15, 19-20).
Por tudo isso, se é verdade que o esporte não deve
temer de modo algum tais princípios religiosos e morais, é preciso, no
entanto, excluir dele algumas coisas que se opõem ao que acaba de ser indicado, tal
como, analogamente, se deve fazer na arte do belo. É ainda do Papa a palavra:
“A sã doutrina ensina a respeitar o corpo, mas não a estimá-lo mais que o
devido. A máxima é esta: Cuidado do corpo, fortalecimento do corpo,
sim; culto do corpo, divinização do corpo, não”, porque “o corpo não ocupa
no homem o primeiro lugar, nem o corpo terreno e mortal, como é agora, nem o
glorioso e espiritualizado, como será um dia. Ao corpo tirado do barro não cabe
a primazia no composto humano, a qual corresponde ao espírito, à alma
espiritual” (Pio XII, Esporte e Ginástica).
Além do mais, assim “como há uma ginástica e um
esporte que com sua austeridade concorrem para refrear os instintos, assim
também há formas de esporte que os despertam, quer com uma força violenta, quer
com as seduções da sensualidade. Ainda do ponto de vista estético, com o prazer
da beleza, com a admiração do ritmo na dança e na ginástica, o instinto pode
inocular seu veneno nas almas. Há, além disso, no esporte e na ginástica, na
rítmica e na dança, certo nudismo que não é necessário nem conveniente.
Não sem razão [...] disse um observador totalmente imparcial: ‘O que interessa
à massa neste campo não é a beleza do nu, mas o nu da beleza’. Diante
de tal maneira de praticar a ginástica e o esporte, o senso religioso e moral
põe seu veto” (idem), assim como o põe na arte do belo.
Mais ainda, na própria prática do esporte devem ou
deveriam ser observados certos requisitos, como “franqueza, lealdade,
cavalheirismo”, que excluem, “como a uma mácula infamante, o emprego da
astúcia e do engano” (idem), devendo o bom nome e a honra do adversário
ser tão queridos e respeitados como os próprios.
O fato evidente, porém, é que no mundo moderno o
esporte (como a arte do belo) desatende a tudo quanto se disse acima. Mais que nunca,
ele transformou-se em ídolo, e não raro em objeto supremo da vida. Mas, como a arte do belo, o esporte deveria “converter-se quase numa ascese de virtudes
humanas e cristãs [...], por mais penoso que seja o esforço exigido, a fim de
que o exercício do esporte se supere a si mesmo, consiga um de seus objetivos
morais e seja preservado de desvios materialistas que rebaixariam seu valor e
nobreza. Aí está resumido o que significa a fórmula: Quereis agir
retamente na ginástica, no jogo, no esporte? Guardai os mandamentos em seu
sentido objetivo, simples e preciso” (idem).
Ora, se o esporte não se converte em tal, mas antes
em ídolo, é porque o mundo atual já se esqueceu culpavelmente do principal dos
mandamentos do Decálogo: Eu sou o Senhor teu Deus, e tu não terás outro
Deus além de mim, “nem sequer o próprio corpo nos exercícios físicos e no
esporte’, o que representaria “quase uma volta ao paganismo” (idem).
Mais de cinquenta anos após o Papa Pio XII ter
escrito isso, já se deu cabalmente tal volta ao paganismo. Mais que isso,
porém: se o mundo pagão como que ansiava uma justiça e uma verdade que ele não
podia alcançar por si mesmo, o mundo atual, neopagão, impugna a própria Verdade
e Justiça, que, feita Carne, habitou entre nós.